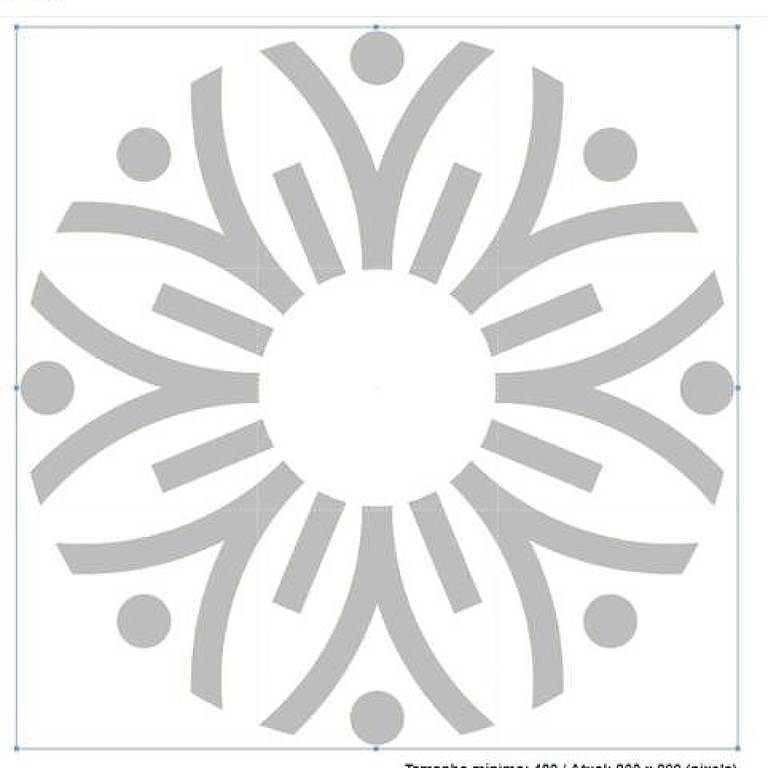Sobre Saúde e os ensinamentos da memória
Helyn Thami
Em 1905, no livro “A vida da razão”, o ensaísta, poeta e filósofo espanhol Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás (sob o pseudônimo George Santayana) cunhou uma frase que, de tão atual, mantém sua ressonância: “aqueles que não podem lembrar o seu passado estão condenados a repeti-lo”. Não sem razão: a máxima descreve, com precisão cirúrgica, os efeitos de uma alienação histórica, promovida por diversos regimes políticos de pouca vocação democrática ao redor do mundo. Parece-me, no entanto, que a citação é usada quase que exclusivamente para falar dos grandes erros da humanidade até aqui.
A sentença original, contudo, é mais abrangente do que seu recorte. O autor afirma que “o progresso, longe de consistir em mudança, depende da capacidade de retenção (…) e quando a experiência não é retida, como acontece entre os selvagens, a infância é perpétua”. Em suma, o progresso deriva da memória, independentemente de onde ela se ancore – erros ou acertos. Com base nisso, proponho ao caro leitor uma viagem no tempo para entender, sob uma perspectiva dialógica entre erros e acertos, a construção do conceito de saúde na contemporaneidade. Para isso, remontemos o ano de 1945.
A Inglaterra, após a vitória na Segunda Guerra, experimentava a colisão de sentimentos quase antagônicos: o orgulho e o otimismo nacional pela vitória e a repulsa e o incômodo pelas condições absolutamente miseráveis experienciadas pela esmagadora maioria da população. Para eles, o saldo dessa colisão foi um dos mais acertados questionamentos da história: se puderam trabalhar juntos para derrotar a ameaça nazista, por que não poderiam se unir em torno da melhoria da vida de sua própria gente? O resultado está aí: o mais antigo sistema universal de saúde do mundo, maior motivo de orgulho nacional para os britânicos, defendido por todos, independentemente da posição social. Reparem que, para pensar o avanço coletivo da sociedade inglesa, a saúde foi um fio condutor. Isso porque se considerou (justamente) a saúde como algo que viabiliza nossa existência e que nos permite desempenhar toda e qualquer função, desde o trabalho até funções sociais mais amplas e de fronteira menos nítida. Em resumo, a saúde ganha status de valor social, e, como tal, algo que toca a todos.
Corta a cena. Brasil, ano de 1988. A Carta Magna constitui importante marco civilizatório, colocando a saúde como direito de todos e dever do Estado. Seguiu-se a implementação do Sistema Único de Saúde, atualmente o maior sistema universal do mundo em termos de população coberta. Muitas semelhanças com o sistema inglês, como o leitor já deve ter notado. Entretanto, uma grande diferença: a sociedade brasileira, ao contrário da inglesa, não se mobiliza de modo uniforme em sua defesa.
A origem da questão está – vejam – na memória. A construção das políticas de saúde no Brasil, até a criação do SUS, seguiu uma trajetória peculiar, na qual, por muito tempo, parcelas expressivas da população estiveram completamente desassistidas. Os serviços eram exclusividade dos empregados formais, com grande desigualdade na prestação dos serviços, a depender da categoria profissional a que se pertencesse (bem como o prestígio da dita categoria). A saúde foi se sedimentando, em consequência, como um bem posicional e, portanto, de consumo. Em resumo: uma categoria especial de mercadoria. O maior ensinamento da memória aqui parece ser que segmentar algo inerentemente humano como a saúde em nichos de propriedade de alguns grupos faz perpetuar não só a alienação na defesa do tema como pauta de interesse público, mas também as desigualdades no acesso a esse direito entre grupos distintos.
O leitor pode argumentar que existe uma distância abissal entre o processo de redemocratização brasileiro e o fim de uma Guerra Mundial, afirmação com a qual eu tenho parcial acordo. Entretanto, ao invés de pautar a magnitude de cada evento histórico (que não são necessariamente comparáveis), deixo a sugestão de pensar esses eventos tão somente como rupturas. Seguindo essa ordem de raciocínio e aplicando-a ao momento presente, uma pergunta pungente se revela: o que estaríamos, nós, brasileiros, esperando para tornar diferente a visão que temos do que é a saúde? Analisemos a ruptura. O país se recupera lentamente de uma gravíssima crise econômica, vivencia ainda altas taxas de desemprego e vê saltar (para além de todos os limites do aceitável) os indicadores de desigualdade. Ademais, muitos cidadãos perderam o acesso ao sistema privado de saúde e há risco iminente do crescimento de despesas catastróficas para as famílias. Vive-se um momento de rupturas em série – políticas, sociais, econômicas. É um momento a se aproveitar para questionar o que a saúde significa para nós enquanto sociedade. Muito além do ter ou não ter (plano de saúde) e usar ou não usar (o SUS), é preciso coletivizar – efetivamente – a saúde: de modo intransitivo, sem objeto direto. Algo que é de, de fato, de todos e que corta nossas vidas em absolutamente todos os momentos (inclusive quando não precisamos de nenhum equipamento de saúde, seja público ou privado).
O conceito de saúde da OMS (1948) fala do completo bem-estar social, físico e mental. Logo, saúde é ferramenta que nos permite o enfrentamento da vida, em toda a sua dificuldade e complexidade. Esse conceito nos provoca e desafia a pensar a forma como as cidades se organizam, a forma como lidamos com nossos trabalhos, nossos corpos. E vai além: questiona a forma como consumimos e como nos relacionamos com os territórios em que vivemos. É, per se, uma proposição disruptiva e, como tal, depende de todos e cada um para vingar enquanto ideia, além de um sistema forte e justo que a materialize.
O desafio de repensar diversas esferas da vida em sociedade culmina em repensar, também, a forma como fazemos políticas públicas em saúde – e por que não dizer que nos faz reconsiderar a forma como se faz (e se deve fazer) política com “P” maiúsculo?
A falta de saúde é democrática em suas externalidades. As consequências são para todos e talvez a maior delas seja a inviabilização de nosso progresso enquanto sociedade, colocando em risco os marcos civilizatórios arduamente conquistados até aqui. Nunca foi tão crucial nos perguntarmos onde queremos chegar quando o assunto é saúde e não devemos esperar um estado de completa devastação para começar a pensar nisso – afinal, há muita memória e oportunidade de aprendizado na forma como conquistamos a saúde universal que temos hoje. O momento é agora. No papel, a saúde é de todos e para todos. Tomemos posse dela, então, como nos ensinam os erros e acertos crivados na memória.
Helyn Thami é mestre em Gestão e Políticas de Saúde pela Universidade de Birmingham, Inglaterra e pesquisadora do IEPS.